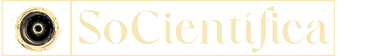Quem minimamente acompanha a questão da produção científica no Brasil e do financiamento da pesquisa em ciência, tecnologia e inovação sabe que, ao lado da meta tão longamente sonhada da aplicação de 2% do PIB no setor, um bom equilíbrio entre investimentos públicos e privados nessas atividades constitui o segundo grande objeto de desejo de boa parte dos estrategistas e gestores da área – além, é claro, da parcela da comunidade científica nacional bem antenada às políticas de CT&I.
Isso se apresentou desde a redemocratização do país, na segunda metade dos anos 1980. O espelho em que todos miravam era obviamente o das nações mais desenvolvidas. O pensamento que então se espraiava, muito distante de recentíssimas tentações obscurantistas, era o de que o desenvolvimento científico e tecnológico constituía condição sine qua para um verdadeiro desenvolvimento socioeconômico e para a implantação de uma sociedade mais justa.
Na época, o Brasil andava ali pela casa de pouco mais de 0,7% do PIB em investimentos totais em ciência e tecnologia e a participação do setor privado, quer dizer, de empresas, ressalte-se, nesse bolo, mal ultrapassava a marca de 20%. De lá para cá, o país fez uma reviravolta nesses números, avançou muito, e pode-se mesmo dizer que cresceu espetacularmente, quando a métrica é o volume de artigos científicos indexados em bases de dados internacionais, um indicador mundialmente consagrado. Essa produção científica praticamente dobrou do começo para o fim da primeira década do século XXI. E continuou sua ascensão consistente (dados disponíveis até 2016).
A expansão notável, fruto de algumas políticas muito bem estruturadas que estão a merecer outros comentários no Ciência na rua, foi baseada na capacidade de produzir ciência das universidades públicas brasileiras, com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ou seja, duas grandes universidades estaduais paulistas, mais algumas grandes universidades federais, como a do Rio de Janeiro (UFRJ), a de Minas Gerais (UFMG) e a do Rio Grande do Sul (UFRGS), na liderança desse processo. Mais de 95% dessa produção científica do Brasil nas bases internacionais deve-se, assim, à capacidade de pesquisa de suas universidades públicas.
Daí o espanto que causou a seguinte afirmação do presidente da República durante entrevista à rádio Jovem Pan, na noite da segunda-feira, 8 de abril:
“(…) e nas universidades, você vai na questão da pesquisa, você não tem, poucas universidades têm pesquisa, e, dessas poucas, a grande parte tá na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo, quando trata do grafeno”.
A resposta da Academia Brasileira de Ciências
A primeira e tranquila reação do presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, físico, professor da UFRJ, pesquisador dos mais respeitados por seus brilhantes trabalhos em emaranhamento quântico, foi observar que “é importante fornecer ao Presidente da República a informação correta sobre as universidades brasileiras, coletadas por órgãos internacionais”
Relata em seguida que, “de acordo com recente publicação feita por Clarivate Analytics a pedido da CAPES, o Brasil, no periodo de 2011-2016, publicou mais de 250.000 artigos na base de dados Web of Science em todas as áreas do conhecimento, correspondendo à 13a posição na produção científica global (mais de 190 países)”. As áreas de maior impacto, prossegue, “correspondem a agricultura, medicina e saúde, física e ciência espacial, psiquiatria, e odontologia, entre outras”.
Davidovich ressalta que “todos os estados brasileiros estão representados” nessa produção, “o que mostra uma evolução em relação a períodos anteriores e o papel preponderante desempenhado pelas universidades públicas que estão presentes em todos os estados”.
Outro ponto fundamental de sua fala: “Mais de 95% das publicações referem-se às universidades públicas, federais e estaduais. O artigo lista as 20 universidades que mais publicam (5 estaduais e 15 federais), das quais 5 estão na região Sul, 11 na região Sudeste, 2 na região Nordeste e 2 na Centro-Oeste”.

Essas publicações, destaca o presidente da ABC, “estão associadas a pesquisas que beneficiam a população brasileira e contribuem para a riqueza nacional. Graças a essas pesquisas, o petróleo do pré-sal representa atualmente mais de 50% do petróleo produzido no país, a agricultura brasileira sofisticou-se e aumentou sua produtividade, epidemias, como a do vírus da zika, são enfrentadas por grupos científicos de grande qualidade, novos fármacos são produzidos, alternativas energéticas são propostas, novos materiais são desenvolvidos e empresas brasileiras obtêm protagonismo internacional em diversas áreas de alto conteúdo tecnológico, como cosméticos, compressores e equipamentos elétricos”.
A realidade que os dados mostram
Coordenador do projeto Métricas, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o professor Jacques Marcovich, ex-reitor da USP (1997-2001), enviou a pedido do Ciência na rua duas tabelas também muito reveladoras da produção científica das universidades brasileiras. A primeira (aqui), baseada no Leiden Ranking, “mostra que das 20 universidades que mais publicam no Brasil, não há nenhuma privada”, ele comentou.
A segunda (aqui), modificada do capítulo de autoria de Solange Santos na obra coletiva Repensar a Universidade (Repensar a universidade: desempenho acadêmico e comparações internacionais, organizado por Jacques Marcovitch, 256 pp, São Paulo, ComArte, 2018, disponível para download em http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/224), mostra resultados de todas as universidades no Brasil em rankings internacionais e, ele observa, “aparecem apenas as PUCs em termos de privadas, e em posições relativamente baixas”.
Uma terceira tabela (veja o PDF), mais extensa e bastante atualizada, foi obtida pelo diretor científico da Fapesp, professor Carlos Henrique de Brito Cruz, a partir da base de dados Incites (https://jcr.incites.thomsonreuters.com). O que ele observa é que, “das 100 universidades brasileiras que mais publicaram artigos científicos no quinquênio 2014-2018, há 17 privadas. A melhor colocada é a PUC Paraná, em 37º lugar”.
Essa publicação foi originalmente realocada do site oficial da Academia Brasileira de Ciências.